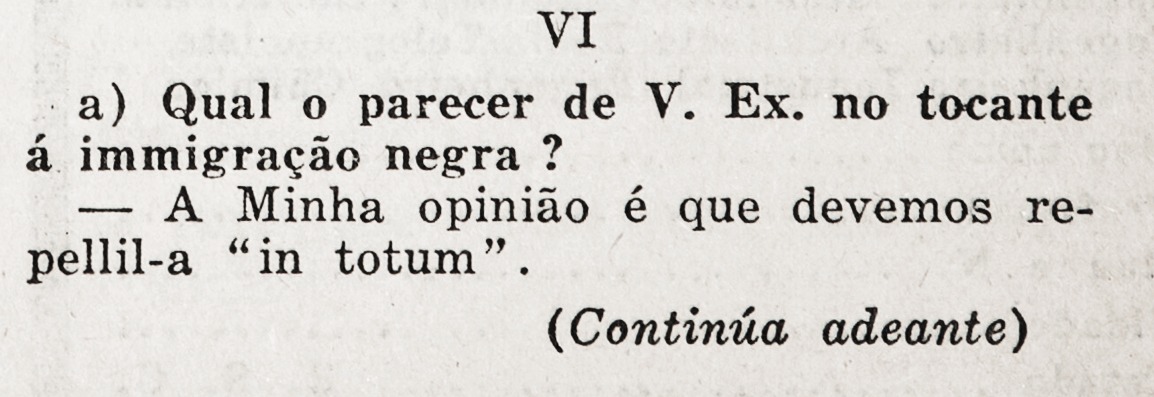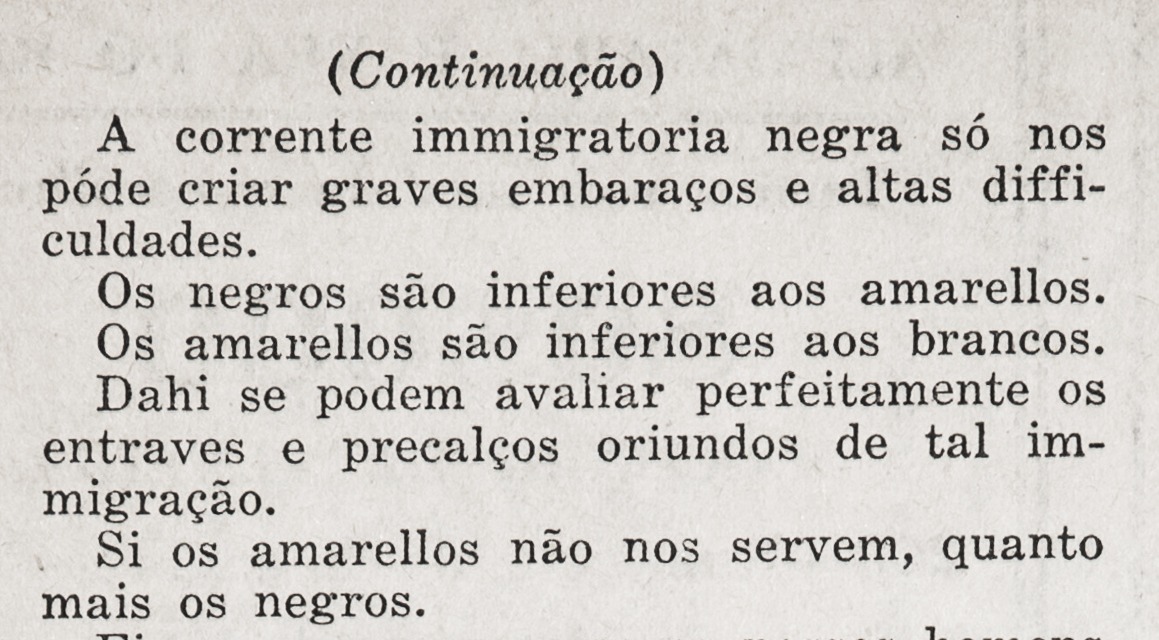Estamos em 2018 e sou a primeira escritora negra a publicar na Revista Souza Cruz; e este não é um fato que consiga comemorar. Por mais que se diga, e até se perceba, que estão surgindo novas possibilidades e oportunidades para a ocupação de espaços antes reservados para uma elite branca e predominantemente masculina, lamento pelas vozes silenciadas. Quanto mais recuperamos este passado que se perdeu, relatado a partir de apenas um ponto de vista, percebemos que algo não se encaixa, que a História não se sustenta. Millôr Fernandes costumava dizer que o Brasil é um país com um grande passado pela frente. Um passado que teimamos em repetir, talvez por medo de construir um futuro no qual os privilégios sejam redistribuídos e uma mulher negra não tenha que inaugurar espaços que, em uma sociedade realmente igualitária, seriam naturalmente também dela.
Lendo os fac-símiles compilados de edições anteriores, no caderno “Mulher”, não me sai da cabeça o famoso discurso da ex-escrava e abolicionista estadunidense Sojouner Truth, feito durante a Women’s Convention, em 1951:
“Aquele homem ali diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens, e erguidas para passar sobre valas, e ter os melhores lugares em todas as partes. Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a passar por cima de poças de lama ou me deu qualquer bom lugar! E não sou mulher? Olhem pra mim! Olhem pro meu braço! Tenho arado e plantado, e juntado em celeiros, e nenhum homem poderia me liderar! E não sou uma mulher? (…) Dei à luz 13 filhos, vi a grande maioria ser vendida para a escravidão, e quando eu chorei com minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E não sou mulher?”
Lendo os artigos e anúncios dirigidos a mulheres, não vejo como minha bisavó, filha de escravos, poderia se reconhecer como tal (“Não sou uma mulher?”). Da mesma maneira que não me reconheço como escritora quando se fala de uma Literatura Brasileira que tenta ser universalista sem incluir a produção de negros e negras.
Escritores e escritoras geralmente trazem para o trabalho as próprias experiências, e, enquanto isso é completamente aceitável nas obras de pessoas brancas, como temática, nas obras de pessoas negras é tratado como discurso panfletário, como literatura de menor qualidade. Quando a genialidade é inegável, a cor deve ser apagada, como acontece nas páginas de fac-símile de literatura, com Machado de Assis e Lima Barreto sendo apresentados como não negros. Uma política de branqueamento que tornava possível a impossível missão de conciliar o racismo e as ideias eugenistas tão em voga na época com a existência de uma intelectualidade não branca.
Na época em que a Revista Souza Cruz circulou, de 1916 a 1935, estavam em voga no Brasil as ideias eugenistas que fizeram enorme sucesso na Europa e nos Estados Unidos, justificando uma política de branqueamento com a qual o governo brasileiro proibiu a entrada de imigrantes negros e financiou a vinda de europeus. Na Edição 118, de 1926, foi publicada uma entrevista com Gabriel Bandeira de Faria, presidente do Círculo do Magistério Nocturno Municipal, respondendo a questões da Sociedade Nacional de Agricultura:
“Pensa que a imigração deva ser exclusivamente da raça branca? Creio que a imigração estrangeira deva ser unicamente da raça branca, por isso que ela é, sob todas as luzes e de maneira indubitável e peremptória, superior às raças amarela e negra. É supérfluo justificar a minha opinião de que a raça branca vence em qualquer terreno as outras duas ou que ela é muito melhor do que ambas.”
“Se os amarelos não nos servem, quanto mais os negros”, teriam lido meus ancestrais se tivessem acesso à Revista Souza Cruz. “Não sou um ser humano?”, teriam se perguntado, seguindo o raciocínio de Sojouner Truth. E não é que à época não houvesse pensamento divergente, provando o racismo e a ignorância serem as únicas justificativas para a inferiorização das “pessoas de cor”. Houvesse interesse em saber o que pensavam, o que queriam, do que necessitavam, a elite intelectual branca que fazia a revista poderia ter dado espaço aos inúmeros intelectuais negros e negras que escreviam no que hoje se chama Imprensa Negra. Jornais, revistas e boletins produzidos às centenas, em todo o Brasil, para tratar de assuntos relacionados ao racismo e à exclusão que nunca ocupariam espaço na Imprensa Branca.
É 2018 e estou aqui: a primeira escritora negra a publicar nesta revista, e o espanto pode ser maior ainda se pensarmos em quantos outros espaços ainda há para se “inaugurar”. Em 2015 fiz um levantamento nos principais jornais, portais e revistas brasileiros e, dos 555 colunistas, apenas seis eram pessoas negras. Menos de um colunista por veículo. E tudo isso é tratado com a naturalidade de quem apela para a “meritocracia” para justificar a própria ignorância e a manutenção de espaços de privilégio em uma sociedade regida pelo compadrio e pela troca de favores.
É 2018 e estou aqui: ocupando este espaço para dizer que não me orgulho de ser a primeira, mas que adoraria não ser a única.